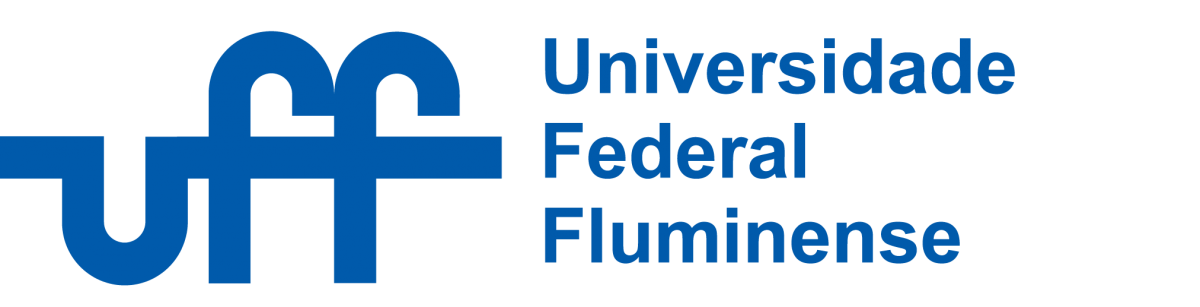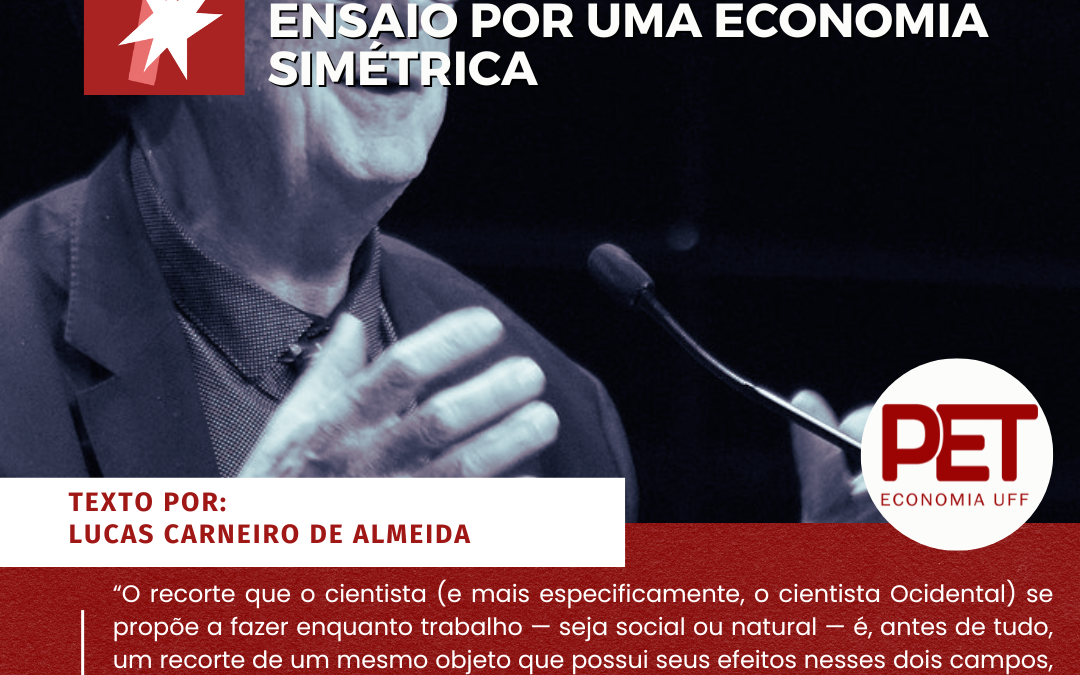Por Lucas Carneiro de Almeida, integrante do grupo de estudos interdisciplinar Micélio UFF.
O recorte que o cientista (e mais especificamente, o cientista Ocidental) se propõe a fazer enquanto trabalho — seja social ou natural — é, antes de tudo, um recorte de um mesmo objeto que possui seus efeitos nesses dois campos, esses que foram afastados ao extremo pelos modernos. Esse distanciamento é assim chamado pelo autor Bruno Latour por “assimetria”, em seu trabalho “Jamais fomos modernos”. Superemos o entrave da estrutura e finalmente compreenderemos os objetos que a economia e a sociologia, a física e a biologia, a filosofia e a antropologia esqueceram de tratar, os quase-objetos.
A Modernidade nos foi negada
“Não importa o que façam, os ocidentais carregam a história nos cascos de suas caravelas e canhoneiras, nos cilindros de seus telescópios e nos êmbolos de suas seringas de injeção.” (Latour, 1994, p.122).
Os cientistas modernos, para Latour, assumem inicialmente um “passado arcaico e estável”, onde sem o seu trabalho, não teríamos um fenômeno de ruptura, de caráter unicamente temporal. Para isso, eles se envolvem em dois grandes conjuntos de práticas totalmente diferentes, mas que os tornam assim, “modernos”¹. A primeira delas é o trabalho de tradução, que através das “misturas entre gêneros de seres completamente novos”, evidenciam os “híbridos de natureza e cultura” (i.e. constituem as redes existentes em nossas interações sociais que evidenciam algum tipo de natureza e, ao mesmo tempo, suas condições naturais que evidenciam as suas condições sociais) e a segunda, o trabalho de purificação, que cria “duas zonas ontológicas inteiramente distintas, a dos humanos, de um lado, e a dos não-humanos, de outro”, compreendendo a existência de uma essência característica, tanto do social quanto do natural, podendo assim exercer um trabalho de “cientista social” ou (unicamente ou) de “cientista natural” (como se, embora houvessem redes, estas seriam só características de intercomunicação posterior de sua formulação enquanto “natural” e “social”), em que o autor usa dos exemplos de Hobbes e Boyle como pais desta Constituição moderna assimétrica. Eles, segundo Latour, reduzem e reagrupam seus corpos de estudo, em Hobbes, o corpo social no Leviatã; e em Boyle, o corpo natural na bomba de ar (Latour, 1994, p. 20-48).
Quando Marx diz que a produção de mercadorias se torna “fantasmagórica”, como que numa relação de exemplificação entre seres não-humanos e o fenômeno social do fetichismo da mercadoria, ele pratica esse mesmo distanciamento que tentaremos, por meio dessa forma de pensamento, evidenciar. O que faltou para que pudéssemos assumir o papel de intermediários (esse que os cientistas acreditam possuir) nessa situação? O que nos falta para lidarmos sinceramente e objetivamente com esses fantasmas que materialmente nos assombram? Tratemos então não mais a sociedade moderna como ateia, que se utiliza desse Deus deposto para animar algum tipo de enfadonha misteriosa sobre o funcionamento do nosso sistema atual, distanciando de vez o que é natural do que é social. Para isso, precisamos seguir alguns passos: Talvez começar por aqueles que acreditaram ter chegado até o fim da história (os pós-modernos) e demonstrar que na realidade, somente a história humana chegou ao fim. Para esses e seus antecessores temporais (os “modernos”) uma ideia era indispensável, a dos fenômenos. O problema foi encontrar na fenomenologia o fim do tempo histórico. Precisamos antes de tudo compreender que “os fenômenos nada mais eram do que o encontro de elementos que sempre estavam presentes anteriormente” (Latour, 1994, p. 102) e que a falta de uma cartografia completa da ciência moderna reitera esses mesmos encontros.
O fetichismo da mercadoria não deve ser entendido unicamente pela perspectiva de uma realidade social e “fantasmagórica” dada, mas sim de uma que atente-se aos seus interesses pela busca de firmamentos humanistas que justifiquem essa crença. Precisamos de uma desterritorialização² da Economia da mesma forma como a fenda na tela de Fontana. Precisamos pôr um fim ao princípio copernicano, esse que só afastou o homem daquilo que o faz Ser, e não por isso ignoramos o Ser. Por consequência, encontramos sua rede e podemos, a partir de agora, o categorizar não mais por descontinuidades ramificadas, mas por uma cartografia de rizoma, sendo que
“(…) um rizoma não pode ser justificado por nenhum modelo estrutural ou gerativo. Ele é estranho a qualquer ideia de eixo genético ou de estrutura profunda” e continua “o mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um grupo, uma formação social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como obra de arte, construí-lo como uma ação política ou como uma meditação” (Deleuze & Guattari, 1995, p. 29).
É impossível dividir o ritual de ir à igreja todo domingo dos efeitos mercadológicos da crença em um mercado “aquecido” ou “preocupado”, figurado. Quando nos contaram a grande mentira da modernidade, esquecemos dos fluxos e teias de rizomas que ligam todas as nossas ações e aquilo que chamamos de “cultura”. Está na hora de voltar atrás e buscar novamente a modernidade que nunca nos foi apresentada.
A Assimetria em Juízo, ou A assim chamada “Economia Simétrica”.
“Pergunta aos melhor que tu ouviu sobre as influências de onde vêm. Respeito é pelos tapa na cara pra cada linha e foda-se pras gravadora, não rendo e monto a minha. Invisto em rap de mensagem com cultura porra. E ao mesmo tempo faço funcionar as calculadora. Se eu faço por dinheiro, às vezes sim Dom. Din que eu não posso dispensar pra continuar fazendo som. O que eu quero? o que faz eu me sentir mais vivo. Pois eu já me senti livre, hoje eu quero é sentir que eu livro. Sem querer ser o melhor, longe dos papo de vaidade. Quer ser o melhor vai ser o melhor pra tua comunidade. Um som por semana? não sou esse tipo de MC. Eu faço um som por ano e tu não fica uma semana sem ouvir.” Griot – MC Marechal
Latour, em busca da tão sonhada simetria no observar científico, usa de uma breve comparação de dois trabalhos do etnólogo e antropólogo francês Marc Augé — uma etnografia sobre o fato social da feitiçaria, comparando sistemas simbólicos de três grupos étnicos da Costa do Marfim (Augé, 1975); e outra sobre os ritos, convenções e instituições que envolvem os metrôs, familiar ao autor francês (Augé, 1986) — para então criticar a superficialidade do segundo trabalho, onde o autor “limita-se a estudar apenas os aspectos mais superficiais do metrô”, ou seja, colocando-se em uma posição um tanto quanto “especial” em relação à profundidade dos estudos etnográficos (por quantas vezes os economistas também esqueceram-se de que são agentes políticos e de que o consumidor, por vezes, não é racional?). Em um trabalho simétrico, complementa Latour, Augé
“ao invés de estudar alguns grafites nas paredes dos corredores do metrô, teria estudado a rede sociotécnica do próprio metrô, tanto seus engenheiros quanto seus maquinistas, tanto seus diretores quanto seus clientes, o Estado patrão e tudo o mais” (Latour, 1994, p. 126).
Posição esta que coloca tanto Augé quanto os cientistas longe da sua convencional observação, que os tornam “audaciosos com relação aos outros e tímidos com relação aos seus” (Idem, p. 127).
Faremos neste ensaio uma crítica latouriana da (e para a) análise científica da economia. Buscamos demonstrar as cadeias rizomáticas entre a arte e a economia, utilizando como ponto de partida uma entrevista feita com o graduando em licenciatura do curso de Artes pela EBA-UFRJ, Theo Damasco, sobre seu quadro “ogum-jorge”³ . Podemos então observar que a arte se comunica com a nossa sociedade com questões claras que ultrapassam o capital, o entendimento da arte passa por aqui por um filtro que assombra nossa sociedade: isso é verdadeiramente artístico ou só mais um produto mercadológico? Traçamos aqui um paralelo com a circulação em escala crescente capitalista, que, com sua tendência expansionista, o capital incorpora áreas que superam até mesmo a barreira espacial (Marx, 2011, p. 689-784).
Como nós podemos identificar essas diferenças, seus caminhos e traçar amplamente sua direção? O artista deve abdicar do mundo material para superar metafisicamente a sua arte em nome de um ideal? Uma comunidade que entende o poder revolucionário das artes deve se sentir incomodada por ela, arte nova e terreno novo que ainda não foi conquistado. Ouvimos poucas histórias que já não nos foram contadas, — ou até mesmo, segundo Walter Benjamin (1987), nem contamos mais histórias — é hora de estraçalhar a estrutura e agitar no limite todas as linhas de fuga. A arte então deve ser parte da proposta de uma massa, daquilo que deseja ser trocado, mas também do inesperado, o incômodo de ir no show e ver que ninguém canta as músicas novas do seu artista favorito. Não se entristeça, isso deve ser arte. E quando realmente não agradar, o faça. A arte que pretende comunicar culturalmente a faceta histórica de uma cultura faz aqui sim arte. Se a proposta é uma mensagem concreta e nada mais, temos propaganda. A arte deve se originar também do anseio, mas o anseio objetivista deve ser distanciado ou satirizado. Não devemos nomear o copo de café como americano, ou até mesmo (se formos fiéis ao relato histórico de Vera Mukhina) soviético. O copo é, antes de tudo, símbolo dos bares da cidade maravilhosa. Mas isso não evita a objetificação cultural clara dos bares do outro lado da cidade, o lado mais bem avantajado.
Temos a arte ao nosso lado, este copo que deixa o fundo da bebida para o santo é carioca. Podemos entender como estes elementos aparecem na obra central deste ensaio, a conexão profunda entre o santo guerreiro e a cidade do império decadente. E mesmo que esta conexão seja informal, ainda acordamos em todos os 23 de abril com os fogos em comemoração ao padroeiro. A feijoada, outro elemento festivo de sua celebração, conta uma importante história da nossa formação econômica: com sua origem “relacionada aos tempos em que vigorava o modo de produção escravista nascida em meio às Senzalas”, podiam diante de sua posição de objeto de trabalho escravo, “saborear os restos” de tudo que não seria utilizado na alimentação dos seus senhores, “ou seja, as extremidades dos porcos” e assim, adicionando então o feijão (da Silva & Gomes, 2008, p. 4-7). Hoje esse elemento pode aparecer em algum cardápio da cidade com uma imediata tradução ao lado como “pork and bean stew”, mas mesmo assim não devemos nos abalar, o caminho de retorno ao rizoma mostra sua realidade de fato.
Observamos então os agentes, aqueles que em meio à escassez criaram esta iguaria. Agora libertos das amarras escravistas, aqueles que eram vistos como não-humanos devem se tornar trabalhadores. Com pouco ou nenhum amparo, estes serão o corpo do exército industrial de reserva, que possibilitou ainda mais a expansão e o “desenvolvimento econômico” da capital do país. Aqui a causa material evidencia sua continuidade particular. A transformação do elemento vital dessa parcela da população em mercadoria é e foi uma necessidade vital para o capitalismo (Marx, 2013, p. 704-716; da Silva & Gomes, 2008, p. 5).
Elementos como o dragão, o cavalo e a guerra de Ogum agora não mais devem ser mencionados entre aspas, não há nada de figurativo nesses signos. Não os nota? Como dragão o proletariado tem ao seu dispor para enfrentar diariamente o patrão. O cavalo que carrega o guerreiro aparece em nossa sociedade em formato retangular e com quatro rodas, coletivo e lotado nos horários de pico. A guerra? O trabalho, categoria de socialização que nos torna novamente objetos e, mais uma vez, mercadoria, categoria central da análise marxista.4
E aqui o céu (ou o paraíso) aparece como a forma mais distante desta guerra, a aposentadoria. Vale aqui pontuar também alguns aspectos que categorizam a crença capitalista — que aprofundaremos ao longo do restante do ensaio — em torno do trabalho. Sua excepcional importância na sociedade capitalista, como mostra Marx, também mantém e faz um paralelo com as crenças sobre a possibilidade de ascensão das classes inferiores. Muitas das defesas do sistema capitalista se dirigem ao trabalho como forma de conquistas por meio do mérito, qualificando-o como o único elemento que “dignifica o homem”, além de que seu inverso também se tornaria uma verdade concreta, como no caso da vadiagem e sua criminalização desde o período do Império (De Siqueira Campos, 2016; Benjamin, 2015).
O Capitalismo na Periferia da Simetria: Capitalismo como Crença Religiosa.
Em um trabalho econômico simétrico, devemos considerar também o capitalismo com as suas particularidades, agora sem aspas, fantasmagóricas. De uma crença, de uma religião que, não só reduzindo ao caráter weberiano de “formação condicionada pela religião”, mas sim em si como um fenômeno religioso, sem dogmática ou teologia, onde o “utilitarismo obtém sua coloração religiosa”. Para isso, vale ressaltar as três categorias desta crença, que segundo Benjamin, podem ser identificadas em: primeiro, pelo funcionamento de que “todas as coisas adquirem significado na relação imediata com o culto”, ou seja, o registro do capital em si evidencia a dinâmica do funcionamento social; pelo seu caráter de “celebração de um culto sans rêve et sans merci [sem sonho e sem piedade]”, com ausência de “dias normais”, em que não há festividade “no terrível sentido da ostentação de toda a pompa sacral, do empenho extremo do adorador”, i.e. pela forma fetichizada das relações sociais em relação às mercadorias; e de que este é um tipo de culto centralizado na culpa, por meio de uma “monstruosa consciência de culpa […] para torná-la universal” (Benjamin, 2015, p. 19-24), como já pontuado anteriormente, por exemplo, no fato da degradação do gênero humano em razão da vadiagem. Podemos melhor observar o culto do capitalismo em seus momentos fenomenológicos extremos (o céu e o inferno): ou durante grandes crescimentos, ou em suas piores crises.
O Fiel e o Purgatório: Período pós-guerra e pré-1970.
Direcionamos esta evidência para a primeira opção: tomando como ponto de partida a convicção de que podemos observar as crenças de um determinado momento histórico e notar suas continuidades, observamos em Landes uma “expressão de fé, revestida da aparência de uma previsão” sobre as tendências de crescimento da produção durante a assim chamada “Era de Ouro do Capitalismo”, fase esta caracterizada pela “peculiaridade do desenvolvimento capitalista nas aproximadamente três décadas que sucederam o pós-guerra.” (Landes apud Bonente, 2016, p. 72). Como continua Bonente, “alguns chegaram a acreditar que o capitalismo havia finalmente entrado em uma nova era de expansão ininterrupta”, o que, segundo a autora, seria de extrema importância (e paradoxalmente) para que esta tendência tivesse continuidade (Bonente, 2016, p. 71-80).
A crença deste período pós-guerra, em união com a consolidação do novo arranjo funcional do sistema capitalista mundial e a “ascensão do ideário intervencionista”, fortificou a crença da chegada dos novos tempos (ou até mesmo na salvação, em seu sentido propriamente judaico-cristão):
“Estas reorientações [no período posterior à Segunda Guerra Mundial] que, em seu conjunto, ficaram conhecidas como fordista-keynesianas incluem mudanças que vão da estrutura produtiva ao plano político-ideológico e, quando articuladas, produzem uma curiosa combinação de crescimento da produção, da capacidade de consumo da classe trabalhadora e manutenção de lucros altos, influenciando decisivamente a manifestação fenomênica da lei geral da acumulação capitalista.” (Bonente, 2016, p. 73, notas nossas).
Por conta dos acontecimentos no entreguerras e a Grande Depressão (que aqui pode ser entendida como o momento da penitência, a grande praga do Egito reerguida, rearranjada), havia um clamor por uma reforma que substituísse o capitalismo de livre mercado que garantisse então a “provisão de serviços públicos (como educação, saúde, transportes etc.)” (Hobsbawm apud Bonente, 2016, p. 77), continuidade esta com a Reforma Protestante, que buscava, por exemplo, o fim das cobranças pelas indulgências em suas teses. Podemos aqui também entender dois movimentos: aquilo que Benjamin destaca como “o cristianismo não favoreceu o surgimento do capitalismo, mas se transformou no capitalismo” (Benjamin, 2015, p. 19-24) e como posteriormente as igrejas neopentecostais estariam no centro desta crença capitalista, movimento este que notamos mais atualmente com a mudança na caracterização por parte dos pastores, agora tentando se parecerem menos com algum “deus puro e santificado”, e mais com um empresário ou coach). Essa substituição viria em forma de um capitalismo em planejamento, que levou “para o descrédito do liberalismo e a crença na virtude do planejamento”, descrédito este que durou pelo menos por meio século, assim como aponta Hobsbawm:
“E se a memória econômica da década de 1930 não fosse o bastante para aguçar seu apetite por reformar o capitalismo, os riscos políticos de não fazê-lo eram patentes para todos os que acabavam de combater a Alemanha de Hitler, filha da Grande Depressão, e enfrentavam a perspectiva do comunismo e do poder soviético avançando para oeste sobre as ruínas de economias capitalistas que não funcionavam” (Hobsbawm apud Bonente, 2016, p. 76).
Nesse mesmo período, temos também o surgimento daquele que seria o elemento organizacional de maior importância para a continuidade e expansão do mercado capitalista mundial: o taylorismo e o fordismo, que unidos aos “significativos aumentos de produtividade e utilização de técnicas cada vez mais intensivas em capital”, acarretaram em aumentos do nível de emprego “em termos absolutos e relativos”, culminando em processos históricos de compensação do esgotamento do contingente de trabalhadores como a “incorporação crescente de mulheres ao mercado de trabalho” (que por meio da crença e do discurso popular, se mostrou como um “importante avanço na luta pela libertação feminina”, mas que, dado as circunstâncias, devemos observar com cuidado e critério, nos questionando sobre a verdadeira motivação e causalidade deste acontecimento, como por exemplo nas críticas à economia neoclássica das teorias da segmentação5) e a migração da zona rural para as grandes cidades. Estes acontecimentos levaram a uma “melhoria geral nas condições de vida da classe trabalhadora”, resultando em uma ampliação do poder de compra, além do que Hobsbawm chamou de uma “democratização do mercado” em relação à proporção dos gastos domésticos destinados à alimentação, causando assim ainda mais comoção em torno da crença (Bonente, 2016, p. 79-84). Destaca também a autora, uma passagem de Hobsbawm, em que mostra como este novo ciclo da produção capitalista e seus resultados benéficos ao curto prazo, auxiliaram na execução de “enormes investimentos, sem os quais o espetacular crescimento da produtividade da mão-de-obra da Era de Ouro não poderia ter ocorrido”, evidenciando a complexidade do processo de expansão do período e categorizando as causas “extraeconômicas” como a crença generalizada da continuidade infinita dos resultados positivos da reforma do capitalismo (Idem, p. 80).
Bonente também destaca mais uma das contradições que atingem não só a crença geral, mas também os teóricos do desenvolvimento, área de seu estudo: “ […] a estabilidade aparece como uma precondição para as reformas e as reformas como uma precondição para a retomada do investimento e do crescimento”; e continua, mostrando que algumas das teorias do desenvolvimento e seus órgãos, idealizadores e coordenadores (igrejas, papas e bispos?) trazem à tona este mesmo caráter religioso do sistema capitalista, observando que, durante as reformas neoliberais realizadas ao fim da década de 1980, “mesmo diante dos resultados pouco animadores”, o chamado Consenso de Washington, enfatizava “a necessidade de dar prosseguimento à sua implementação” (Bonente, 2016, p. 179).6
Ao prosseguir no trabalho da autora, é notória a importância da presença da crença (ou da descrença) no sistema capitalista e seus moldes em sua continuidade, como por exemplo no destaque sobre mudanças ocorridas nas teorias do desenvolvimento do pós-1970, onde “a crise na disciplina assume a forma de um crescente ceticismo quanto à possibilidade de superação do subdesenvolvimento e promoção da tão almejada convergência da riqueza das nações”; ou então por parte da crítica às teorias do desenvolvimento que desfoca da “impossibilidade de realização do projeto [de desenvolvimento] em si” e se voltam às estratégias, como por exemplo, as teorias com foco no desenvolvimento industrial dos países subdesenvolvidos (Bonente, 2016, p. 167-168). Nesta última, a autora utiliza do termo “mitológico”, entre aspas, para definir o caráter desenvolvimentista do capitalismo e o posicionamento de alguns autores do tema em torno da “própria definição de desenvolvimento” (Idem, p. 168). Mitológico senão no sentido de um olhar puramente entranhado da visão da sociedade capitalista. Não poderíamos então compreender esta como uma real mitológica da sociedade capitalista, ao invés de usar da categoria em sua forma figurativa? A assimetria então aparece novamente, e se superada, poderíamos finalmente entender aquilo que, segundo a autora, foi “a disseminação da crença segundo a qual o aumento na qualidade de vida seria um resultado quase inexorável” no período pré-1970 (Bonente, 2016, p. 171).
Se a Economia, ao pretender estudar os sistemas econômicos e, por consequência histórica, estudar a totalidade do sistema capitalista, observar os vários aspectos que foram deixados de lado pelo distanciamento moderno, a assimetria se tornará um passado pré-moderno. Vale ressaltar que, além da sistematização em si do capitalismo como crença religiosa, os elementos que o capitalismo capturou e extraiu de outras crenças para formular a sua própria, como por exemplo o “Wergeld [indenização por morte de pessoa no direito antigo]/tesouro das boas obras/salário devido ao sacerdote” ou então na figura de “Plutão como deus da riqueza” (Benjamin, 2015, p. 22), ou então a análise sobre as práticas de bioascese de Ortega (2008) e Machado (2015), que retomam um certo caráter religioso de uma série de “sacrifícios físicos com um fim único: o próprio corpo”, em comparação com o conjunto de práticas da ascese clássica (Foucault, 1984 apud Machado, 2015) devem ser capturados também como nossos objetos de estudo7. Benjamin, em uma de suas Anotações sobre Dinheiro e clima, adianta a ideia de uma “análise descritiva das cédulas bancárias”, onde segundo o autor, há uma importância e força de objetividade e de sátira, pois
“além desses documentos não há outro lugar em que o capitalismo se porta com tanta ingenuidade em sua santa seriedade. O que se vê aí de pequenos inocentes em torno de cifras, deusas segurando tábuas da lei e heróis experimentados embainhando a espada diante de unidades monetárias, tudo isso é um mundo à parte: arquitetura de fachada do inferno” (Benjamin, 2015, p. 21).
Referências Bibliográficas
ABRAMO, Laís Wendel. A inserção da mulher no mercado de trabalho: uma força de trabalho secundária?. 2007. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.
AUGÉ, Marc. Théorie des pouvoirs et idéologie. Étude de cas en Côte d’Ivoire. 1. ed. Paris: Herman, 1975.
AUGÉ, Marc. Un ethnologue dans le métro. 1. ed. Paris: Hachette, 1986.
BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas, volume 1: magia e técnica, arte e política — ensaios sobre literatura e história da cultura. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987.
BENJAMIN, Walter. O capitalismo como religião. 2. ed. São Paulo: Boitempo Editorial, 2015. (Notas presentes na edição alemã).
BONENTE, Bianca Aires Imbiriba Di Maio. Desenvolvimento em Marx e na teoria econômica: por uma crítica negativa do desenvolvimento capitalista. Niterói: Eduff, 2016.
DE SIQUEIRA GONÇALVES, Monique. Pelas ruas da cidade: mendicidade, vadiagem e loucura na corte imperial (1850–1889). Tempos Históricos, v. 20, n. 1, p. 154–188, 2016.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol. 1. Tradução: Aurélio Guerra Neto; Celia Pinto Costa. 1. ed. São Paulo: Ed. 34, 2011.
DA SILVA, Denison Rafael Pereira; GOMES, Francisco Alves. Feijoada: das senzalas dos negros aos restaurantes da classe média. EXAMÃPAKU (revista descontinuada), v. 1, n. 2, 2008.
LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos. Tradução: Carlos Irineu da Costa. 4. ed. São Paulo: Ed. 34, 1994.
MACHADO, Eduardo Pinto. De aprendiz a coach: o aprendizado sobre o uso de anabolizantes entre estudantes de Educação Física. 2015. 123 f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Movimento Humano) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/handle/10183/133749. Acesso em: 24 dez. 2024.
MARX, Karl. O capital, livro I. Tradução: Rubens Enderle. – 3. ed. – São Paulo: Boitempo, 2013.
MÉNDEZ, Natalia Pietra. Do lar para as ruas: capitalismo, trabalho e feminismo. Mulher e Trabalho, v. 5, 2011.
ORTEGA, Francisco. Do corpo submetido à submissão ao corpo. O Corpo Incerto: corporeidade, tecnologias médicas e cultura contemporânea. Rio de Janeiro: Garamond, 2008.
Notas
1 As aspas nesse trabalho serão utilizadas como recurso estilístico sempre que acompanhadas dos destaques em itálico, para melhor distinção entre as citações.
2 As noções de territorialização, desterritorialização e reterritorialização são conceitos importantes e centrais presentes nas obras de Gilles Deleuze e Felix Guattari. A territorialização refere-se às relações de poder que os seres possuem e exercem nos espaços (físicos, sociais e subjetivos psicológicos) historicamente, definindo e organizando-os. A desconstrução (ou transformação) dessas instituições de poder serão chamadas de desterritorialização, que na obra dos autores aparece sempre ligada, necessariamente, com um processo de reterritorialização de outros espaços, pois há, ao mesmo tempo, um vetor de saída do território e um esforço de mapear e cartografar um novo território. Para mais sobre o tema, conferir o trabalho de Haesbaerth e Bruce (A desterritorialização na obra de Deleuze e Guattari. GEOgraphia, v. 4, n. 7, p. 7-22, 2002).
3 A entrevista pode ser encontrada na versão completa deste ensaio, disponível em: https://medium.com/@almeidaluscas_/economia-assimétrica-uma-análise-pós-estruturalista-da-arte-ec8e76bb9bd0
4 E aqui deve-se notar que não se trata de uma figuração distanciada, numa tentativa de animar signos mitológicos. Assumimos uma continuidade histórica entre a representação desses objetos e os destacamos, estruturalmente, na nossa sociedade. Esse movimento nos confronta com os elementos históricos de qualquer mitológica com maior rigor.
5 Este tema pode ser encontrado com maior profundidade nos trabalhos de Abramo (2007) e Méndez (2011).
6 Podemos também notar o caráter de crença religiosa em torno também de algumas teorias econômicas que, por exemplo Keynes, em seu Tratado sobre a Moeda (1930), trata da relação aprofundada entre o funcionamento de uma economia e o “racionamento de crédito” por parte dos bancos. A palavra tem sua origem no etimológica no latim creditum, credere, ou seja, confiar, ter fé. Como ressalta Marx (2013, p. 174-176) em relação aos nomes dados às moedas (que hoje figuram no âmbito ideal) e sua relação outrora real: “As moedas cujos nomes são hoje apenas ideias são, em todas as nações, as mais antigas; elas foram outrora reais, e justamente porque eram reais é que os homens operavam com elas” e continua posteriormente evidenciando o aparecimento de elementos “inesperados” em sua análise histórica da formação dos padrões monetários: “O nome de algo é totalmente exterior à sua natureza. Não sei nada sobre o ser humano quando sei apenas que um homem se chama Jacó. […] A confusão sobre o sentido oculto desses símbolos cabalísticos é tanto maior porque as denominações monetárias expressam o valor das mercadorias e, ao mesmo tempo, partes alíquotas de um peso metálico, do padrão monetário”.
7 A prática de bioascese trabalhada pelos autores refere-se ao conjunto de “processos de subjetivação nos quais a formação da identidade do submetido à prática está estritamente ligada às decisões sobre o estilo de vida desta pessoa, sobre o disciplinamento de seu corpo e acerca do governo sobre si mesmo”. Basicamente, o indivíduo que segue essas práticas “é aquele que faz sacrifícios físicos como um fim único: o próprio corpo”. A utilização desta categoria neste trabalho de maneira introdutória deve-se ao seu caráter relacional com os elementos de crença entorno da construção do corpo humano na sociedade contemporânea, influenciada pela idolatria das redes sociais e por suas diferenças claras entre a base da ascese no “sacrifício na busca da elevação espiritual”, seguida pelo “sacrifício pela modificação corporal” (Machado, 2015, p. 30-33). Essa correlação entre os temas deve ser melhor trabalhada em um trabalho posterior, com foco central na relação entre a virtualização das crenças humanas no mundo moderno e sua dinâmica econômica (principalmente em torno dos mercados de consumo excessivo, incentivados por diversas ferramentas e por adeptos das suas manifestações). Conferir mais sobre o assunto em O Controle da realidade atráves da administração de mentiras: a idolatria nas redes sociais, de Souza da Silva (2019), que pode ser acessado em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/61187784/Imagens_em_transformacao20191111-34988-jkicqn-libre.pdf?1573522772=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DImagens_em_Transformacao.pdf&Expires=1735415804&Signature=bW1mSN9FPFwpbWSwKL~3GysHMMJJ-5AZ1iZhztkU2IsEq2-JwRMC0QgV1sjtgjk83BxNnm8N2w5rMyofNpwV5tpBrpBSiI0FqEsUK0McjMombWRdHlOuBLO3-FHBApLcGfUX4ydBLg2Xn3rZSGrM5Bmslx~Q6m-flsYXzMpr8wpE5nFRnmd9OgvDSwHD7zZdrwAL5WEbbI6qC27TlwI73ldzDO8N4PvI2oY8nOr-PiKjKrSaPL7hOvAlS~UjO20z8CmfV15HGgrFT-lI2vKENSXoXr2uX2GCtna9bf2nlYB3GcVlKzqr1ix0fyl75nFY-zgPKZpOZdbhZ3h~yQrlIQ &Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=21).