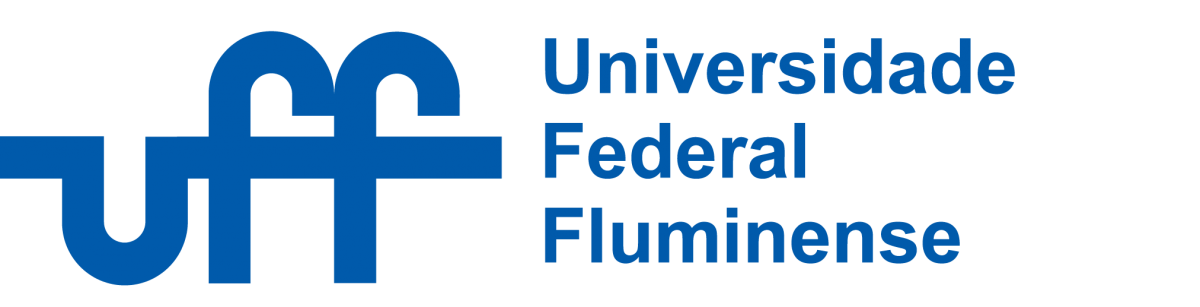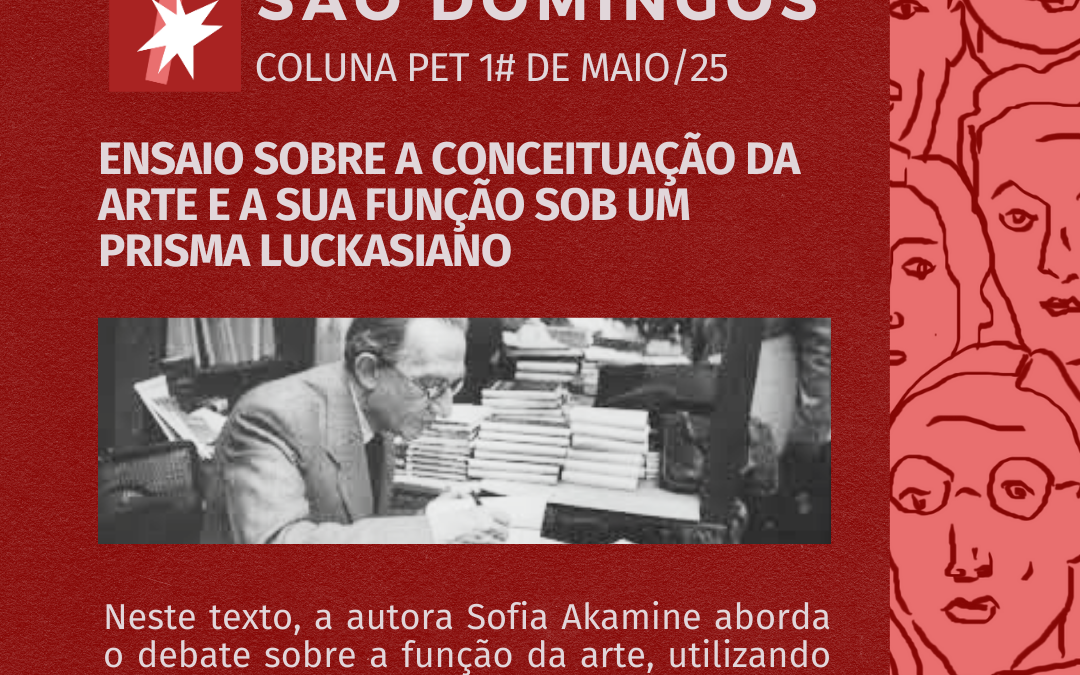Por Sofia Akamine, integrante do PET Economia UFF
A compreensão da realidade e dos seus desdobramentos exige, crucialmente, a escolha de um método, uma formalização da maneira em que ela será apreendida. Posto isso, Gyorgy Lukács, no entrave do debate metodológico, se afasta da mecanicidade do positivismo lógico, assim como do antirrealismo das proposições idealistas. Distante das predominantes correntes científicas do século XX, se debruça sobre o estudo ontológico, e não apenas epistemológico do conhecimento. Fundamental destacar a importância desse rompimento para compreender o estudo do gênero humano e da sociedade colocado ao longo das linhas de “Para uma ontologia do ser social”.
A título de síntese, ontologia será aqui compreendida sendo a reflexão acerca da natureza do ser ou do objeto estudado. Destarte, Lukács utiliza a prioridade ontológica do ser social como norte para guiar a análise subsequente. Ao compreender as particularidades do objeto tratado, o autor, então, define a sua metodologia: o materialismo histórico-dialético. Logo, entende- se quais são as lentes usadas por Lukács para estudar as engrenagens da realidade; em termos epistemológicos, aplica o caráter post-festum do método dialético e estipula o realismo ontológico como ponto de partida.
No centro das questões metodológicas, residem, ainda, outros pontos a serem mencionados. Lukács, consoante a Marx, serve-se de categorias (formas de ser e determinações da existência) para estruturar e desenvolver a sua argumentação. Compreende-se que a sociedade é composta por esferas (política, econômica, artística, social, entre outras) e pela relação de interdependência desenhada entre elas. A essa ideia dá-se o nome de totalidade. A esfera econômica aqui ganha destaque, uma vez que a produção e reprodução dos meios e condições materiais de vida é ponto nevrálgico no que tange à sobrevivência do ser humano.
Além disso, o ser social, enredado nesses complexos, diferencia-se dos outros seres vivos devido ao trabalho. É por meio do trabalho que o ser humano interage com a natureza, refina as suas habilidades e os seus sentidos, é como o gênero humano é construído ao passo que também é transformado; é a força motriz do desenvolvimento mental, físico, cognitivo, artístico etc. do ser humano.
Introduzidas as noções de totalidade e de centralidade do trabalho levantadas em Para uma ontologia do ser social, pode-se seguir a discussão a respeito da gênese da arte, da sua definição e da sua função em termos luckásianos.
A arte é derivada da base econômica, mas é imprescindível destacar que não é apenas essa base que a determina. O desenvolvimento das esferas formadoras da superestrutura, especialmente do âmbito artístico, possui nexo com o desenvolvimento desigual do homem. Isso significa que períodos de florescimento econômico, por exemplo, não implicam um movimento forte de produção artística. Não obstante, Lukács não descarta a possibilidade de avanço da arte em momentos não favoráveis para isso:
“O desenvolvimento desigual, portanto, apresenta-se em nível dialético superior, já que num período desfavorável sempre podem nascer obras de arte significativas” (Lukács, 2012 p. 394).
Ademais, é ressaltado que o artista tende a capturar de maneira deturpada a sua realidade. Apesar disso, o indivíduo ainda é capaz de se despojar de rótulos equivocados e possibilitar que a realidade concreta apareça, independentemente da sua vontade. As manifestações artísticas, como literatura, pinturas e esculturas, não servem apenas como registro de uma época histórica específica ou de devaneios individuais do artista, mas também, e principalmente, como receptáculos dos traços autênticos e universais do ser humano. Segundo Lukács:
“…um artista compartilha da ‘falsa consciência’ de seu tempo, de sua nação e de sua classe; porém em certas circunstâncias, quando sua práxis artística é confrontada com a realidade, pode despojar-se do mundo de seus preconceitos e captar corretamente a realidade tal como ela se apresenta em sua autenticidade e profundidade” (Lukács, 2012, p. 393).
Decerto, a relação entre a arte e o sujeito parte da relação que ele possui com o meio em que vive, da realidade material circundante da sua existência. É um dos produtos do metabolismo criado entre homem e natureza ao longo da história. Nesse sentido, ao procurar entender e interpretar a totalidade da realidade concreta, os seus complexos e as suas peculiaridades, o ser humano desenvolve o reflexo proveniente da arte, o aspecto estético da práxis humana.
Essa noção posta por Lukács fixa a arte como uma forma de conhecimento. A essa afirmação, vale desenvolver uma observação importante para a apreensão de uma das características da esfera artística. Traçando um paralelo entre a ciência e a arte, entende-se que a primeira forma de conhecimento procura captar o mundo de maneira alheia às suas subjetividades, um reflexo que tenta ser, essencialmente, objetivo, apesar dos obstáculos para isso. A arte, por sua vez, recebe o mundo por meio de um olhar antropomorfizado. As manifestações artísticas preservam a objetividade da realidade, mas não deixam adjacentes as particularidades do gênero humano, as características que humanizam o indivíduo.
A antropomorfização oriunda do trabalho artístico traz à tona, por meio da tentativa de reflexão da realidade via estética, não apenas os fenômenos observáveis e sentidos na vida cotidiana, como também a essência deles. Assim sendo, o artista necessita enxergar, interpretar e projetar aspectos encobertos pela heterogeneidade da vida:
“Para a captação dessa imediatez, do ponto de vista da criação artística, o autor precisa ser capaz de identificar, na realidade mesma, o que é a essência e buscar a melhor forma para apresentar esse conteúdo; daí a atividade de criação não ser apenas espontânea, superficial, transcendente, mas exigir uma atitude diante da vida de conhecê-la e respeitar a imanência que lhe é própria” (Alves & Santos, 2022, p.195).
A cristalização de um esforço artístico, uma pintura, um romance, entre outros, cria, segundo Lukács, um “meio homogêneo”, em que o sujeito consegue ser suspenso da sua vida cotidiana, porém não é alienado de sua autoconsciência. A arte sendo definida por forma de conhecimento e reflexo da realidade concreta possibilita a expressão da totalidade da existência humana em todas as suas dimensões.
Vale destacar que o processo de criação do artista não se reduz a capturar, de maneira semelhante a uma fotografia, a realidade e os seus fenômenos. À habilidade de construir um reflexo dá-se o nome de mimese. O papel dessa categoria é demonstrar justamente a capacidade do ser humano de imitar, reproduzir a realidade como ela é, ao passo que ressalta os traços universais do ser social. Em suma:
“Tudo o que foi dito até aqui sobre a imitação da realidade na obra de arte tem como objetivo criar uma aparência de realidade que seja capaz de levar o homem inteiro a uma pausa momentânea do cotidiano e, assim, inteiramente voltado para a arte, mergulhado no reflexo intensificado que busca evocar o núcleo central humano, através da mimese, ele possa captar essência da porção de vida refletida na obra” (Alves & Santos, 2022, p. 197).
Expostas as categorias que auxiliam o entendimento da estética, é possível avançar a discussão para outro tópico: qual é a função da arte para Lukács? Resgatando o norte da argumentação desenvolvida em Para uma ontologia do ser social, faz-se necessário mencionar a centralidade do trabalho. O trabalho é a manifestação última da práxis humana, ou seja, o caminho principal pelo qual o homem, conscientemente, transforma o seu mundo.
Nessa lógica, a arte se apresenta como modelo advindo do trabalho. Afirma-se isso porque o fazer artístico abarca os componentes desse processo: o pensar (alinhar uma finalidade e investigar os meios) e o produzir (a realização do produto). O desenvolvimento desse processo aparenta carregar consigo certa simplicidade, não obstante revela a capacidade humana de, por meio do fazer estético, interpretar e de refletir de maneira adequada a realidade, conforme os pontos desenvolvidos previamente.
Por conseguinte, o papel do complexo artístico, uma vez que espelha a realidade, é desfetichizar a aparência dos fenômenos e das coisas. Lukács remonta à noção de “desfetichizar” de O capital, de Karl Marx, em que ele desenvolve o conceito do fetichismo da mercadoria. Esse processo, em poucas palavras, é a inversão da relação sujeito-objeto, não exclusiva da sociedade mercantil, mas salientada nesta configuração. A impressão deixada pelo fetichismo é da autonomia do produto do esforço humano, ocultando as relações sociais ocorridas na produção e troca de uma mercadoria. Seguindo esse raciocínio, Lukács define que o complexo artístico deve retirar o véu que oculta a verdadeira essência dos fenômenos observados no cotidiano.
A função executada pelo complexo da arte, ao dissolver os aspectos fetichizados da realidade e espelhar a sua concretude, tende, comumente, a evocar sentimentos nos indivíduos que tiveram contato com a cristalização do trabalho artístico. A arte provoca um choque, uma catarse no receptor, que se vê confrontado com a realidade diante dele. O meio homogêneo, o cosmo em que uma história acontece, por exemplo, é fechado em si mesmo, com seu funcionamento restrito à criatividade do artista. Todavia, quando a obra é espraiada com movimentações verossímeis, contudo não superficiais, presentes no mundo concreto, promove uma experiência catártica no receptor:
“O choque que as grandes obras nos causam deve-se ao fato de que essa imagem nos traz um conteúdo novo que não percebemos na nossa vida comum, no nosso dia a dia, nas atividades corriqueiras, quando não estamos voltados para uma objetivação que nos arremate e nos aponte o que não vemos.” (Alves & Santos, 2022, p. 203).
Portanto, a arte e as suas vertentes na literatura, na música, na pintura entre outras manifestações, cumpre verdadeiramente seu papel quando é farol para a transformação dos seres humanos. Quando salienta nossos sentimentos universais dentro de um universo particular, habilitando o indivíduo a se enxergar e a enxergar o mundo ao seu redor sem vendas nos olhos.
REFERÊNCIAS
LUKÁCS, G. Para uma ontologia do ser social – volume I. São Paulo: Boitempo Editorial, 2012.
ALVES, G e SANTOS, A. (org.). O espectro de Lukács: política, estética e estranhamento na era da barbárie social. Marília, SP: Projeto editorial Praxis, 2022.